Formação da Identidade Coletiva dos brasileiros
A formação de uma identidade coletiva ocorreu de maneira fundamentalmente distinta na Alemanha e no Brasil. No caso alemão, surgiu inicialmente uma consciência coletiva de base cultural e linguística, da qual se desenvolveu a noção de um “povo” em sentido étnico-cultural. No entanto, a criação do Estado nacional alemão não foi um processo pacífico nem meramente institucional: ela envolveu guerras deliberadamente provocadas e conduzidas pela Prússia, sob liderança política e militar, como instrumento para impor a unificação. Os conflitos contra a Dinamarca, a Áustria e a França foram centrais para realizar o projeto do Estado alemão, consolidado em 1871. O Estado nacional foi, portanto, o resultado de violência organizada e de uma estratégia de poder, ainda que apoiada em uma identidade cultural prévia.
No Brasil, o processo ocorreu de forma inversa. Após a independência em 1822, criou-se primeiramente um Estado, fortemente moldado por interesses dinásticos de uma família real européia, suas elites apoiadoras e interesses geopolíticos, sem mobilização popular ampla e sem ruptura social profunda. A construção de um Estado territorialmente unificado precedeu a formação de um “povo” brasileiro.
A identidade nacional existente no Brasil era compartilhada essencialmente pelas elites e estava fortemente ligada a valores europeus e ao cristianismo português. A população, por sua vez, percebia-se majoritariamente como súdita, e não como sujeito de soberania política. Somente após a fundação do Estado surgiu, de forma muito lenta e incompleta, a ideia de que seria necessário construir e integrar um povo — ainda assim, tratava-se de uma integração popular que, na prática, era indesejada. Essa lógica perdurou até o final do século XX, tamanha era a incompatibilidade entre as identidades coletivas das elites governantes e a identidade coletiva do chamado povão brasileiro, frequentemente visto como atrasado, incapaz e pouco inteligente.
Esse déficit estrutural de participação política e de inclusão simbólica fez com que amplos setores da população não se percebessem como cidadãos plenos — uma percepção que correspondia fielmente à sua condição jurídica e social real.
Após a Independência
Após a independência em 1822, o Brasil constituiu-se primeiro como Estado, e não como povo. A ruptura com Portugal ocorreu sem revolução social, sem transformação das estruturas de poder e sem participação popular significativa. O novo Estado manteve a monarquia, a escravidão e a hierarquia social herdadas do período colonial. A identidade nacional então formulada era restrita às elites e fortemente ligada a valores europeus, ao cristianismo português e a ideais civilizatórios importados. Não havia esforço real de incluir indígenas, pessoas escravizadas, libertos ou camadas populares como sujeitos da nação.
Durante o Império e boa parte da Primeira República, a população era tratada politicamente como súdita, não como portadora de soberania. O direito ao voto era limitado, o analfabetismo servia como mecanismo de exclusão política e a violência estatal era instrumento recorrente de controle social. A ideia de um “povo brasileiro” como corpo político integrado simplesmente não existia na prática. O Estado governava sobre a população, não com ela.
Nem mesmo a abolição da escravidão em 1888 pode ser compreendida como resultado direto de pressões populares internas ou de uma transformação moral profunda da sociedade brasileira. A escravidão foi mantida no Brasil até o limite do possível porque ela era a base econômica e social do Estado e das elites, e sua extinção ocorreu de forma tardia, controlada e sem qualquer compromisso com a integração dos libertos à nação.
Desde o início do século XIX, a pressão britânica foi decisiva para minar o sistema escravista brasileiro. A Inglaterra, potência hegemônica da época, havia abolido o tráfico de escravizados em 1807 e passou a combatê-lo internacionalmente por razões econômicas, estratégicas e políticas, não humanitárias. O Brasil, economicamente dependente do comércio britânico, foi forçado a aceitar sucessivos acordos que restringiam o tráfico atlântico, culminando na Lei Eusébio de Queirós (1850), que só foi efetivamente aplicada quando a ameaça inglesa de repressão naval e sanções comerciais tornou-se concreta.
As leis abolicionistas posteriores — Lei do Ventre Livre (1871) e Lei dos Sexagenários (1885) — não tiveram como objetivo libertar pessoas escravizadas de forma imediata, mas administrar o fim da escravidão sem romper a ordem social. Foram medidas graduais, desenhadas para proteger os interesses dos proprietários e evitar conflitos, não para reconhecer os escravizados como sujeitos de direitos ou membros da nação.
A Lei Áurea, assinada em 1888, foi o ato final de um processo imposto de fora para dentro e conduzido pelas elites. Não houve indenização aos libertos, nem acesso à terra, educação, trabalho protegido ou cidadania política. O Estado simplesmente declarou o fim da escravidão e abandonou milhões de pessoas à própria sorte. Isso evidencia que a abolição não fazia parte de um projeto de construção de um povo brasileiro integrado, mas sim da necessidade de preservar a inserção internacional do país e evitar o colapso do regime monárquico diante de pressões externas e internas limitadas.
A população escravizada e liberta resistiu, fugiu, organizou quilombos e participou de movimentos abolicionistas, mas essas ações nunca foram reconhecidas como fundamento legítimo da nação. Ao contrário, o medo das elites era que uma abolição conduzida de baixo para cima resultasse em desordem social ou em um cenário semelhante ao do Haiti. Por isso, a liberdade foi concedida sem cidadania.
O impacto da abolição sobre a identidade coletiva brasileira foi, portanto, devastador. Ao libertar sem integrar, o Estado reforçou a ideia de que amplos setores da população não pertenciam plenamente à comunidade política. Em vez de redefinir a nação em termos inclusivos, optou-se por um projeto que substituía o trabalho escravizado por imigração europeia, buscando “corrigir” a composição social do país segundo critérios raciais e civilizatórios.
A abolição de 1888, longe de representar um momento fundador de uma identidade nacional compartilhada, consolidou a ruptura entre Estado, elites e povo. Ela encerrou juridicamente a escravidão, mas perpetuou socialmente a exclusão. O resultado foi uma sociedade em que a liberdade não significou pertencimento e em que a identidade coletiva continuou sendo um privilégio de poucos.
Ao longo do século XX, especialmente durante períodos autoritários, como o Estado Novo e a ditadura militar, houve tentativas de fabricar uma identidade nacional unificada por meio de símbolos, mitos e discursos oficiais. No entanto, essas iniciativas não significaram inclusão política efetiva. A participação popular permaneceu limitada, controlada ou reprimida. A população pobre, majoritariamente negra e mestiça, continuou sendo percebida pelas elites como atrasada, incompetente e incapaz de exercer plenamente a cidadania.
Somente no final do século XX, com a redemocratização e a Constituição de 1988, surgiram bases legais mais amplas para a inclusão cidadã. Ainda assim, o legado histórico de exclusão, desigualdade e desconfiança em relação ao povo permaneceu profundamente enraizado. A distância entre o Estado, as elites e a população não foi superada, mas apenas parcialmente atenuada.
Assim, a identidade coletiva brasileira formou-se de maneira fragmentada e contraditória. O Estado precedeu o povo; a nação foi pensada por um pequeno grupo, motivado por interesses próprios, antes de ser vivida; e a cidadania foi prometida muito antes de ser efetivamente praticada. O déficit estrutural de participação política e de inclusão simbólica fez com que amplos setores da população não se vissem — e muitas vezes ainda não se vejam — como cidadãos plenos, percepção que correspondeu, durante grande parte da história brasileira, à sua condição jurídica e social real.

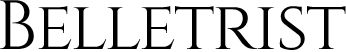
Deixe um comentário